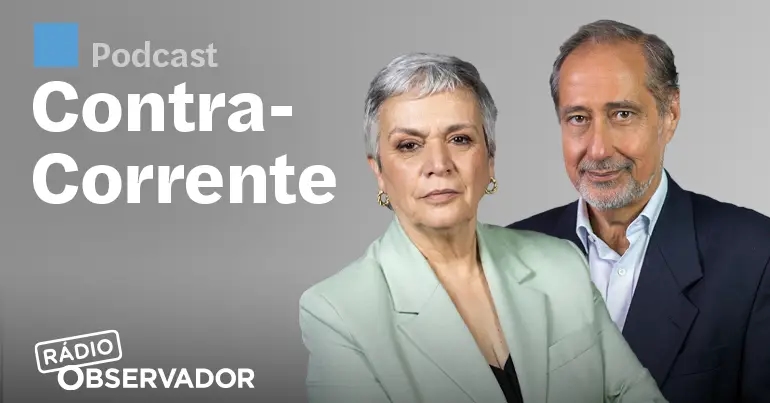O centenário de Frantz Fanon

A recepção do pensamento de Frantz Fanon (1925–1961) no Brasil diz algo de importante a respeito dos desdobramentos, criações e limites de nosso horizonte crítico.
Neste momento em que se comemora o centenário de nascimento do psiquiatra, político e filósofo da Martinica – que integrou a seu nome mais um, Ibrahim, para lembrar que seu lugar era entre os que lutavam contra as forças coloniais –, vale a pena refletirmos sobre como se lê Fanon no Brasil, sobre o que se lê e o que não se lê.
Pois há de se salientar a singularidade de sua recepção entre nós. Durante muito tempo, eram raras as traduções de seus livros. Os Condenados da Terra teve uma primeira edição em 1968 e, 40 anos depois, voltou às livrarias por uma editora universitária. Peles Negras, Máscara Branca foi traduzido nos primeiros anos do século XXI por outra editora universitária de pouca circulação.
Foi só a partir de 2020, começando com dois livros da Ubu, Alienação e Liberdade: Escritos Psiquiátricos, e a nova tradução de Peles Negras, Máscara Branca, que sua obra foi, enfim, disponibilizada ao grande público brasileiro. A partir de então, novas traduções apareceram, como Escritos Políticos e Por Uma Revolução Africana, em 2021, e a nova tradução de Os Condenados da Terra, em 2022.
Neste ano, para marcar o centenário, foram lançados O Ano V da Revolução Argelina e duas coletâneas de ensaios, Pensar Fanon, com os textos mais importantes de comentários sobre o autor, e Desde Fanon, trabalho consistente dos pesquisadores Deivison Faustino e Muryatan Barbosa.

Insisto nesse ponto para salientar como um autor que, de certa forma, estava marginalizado nos debates intelectuais nacionais, conseguiu, em cinco anos, tornar-se uma referência incontornável do nosso pensamento crítico. Isso diz algo a respeito da sensibilidade mais apurada da academia brasileira para problemas coloniais, assim como para a junção entre racialização e sofrimento psíquico.
Fanon foi, inicialmente, um psiquiatra que compreendeu que não há colonialismo sem a constituição de uma psicologia que faz da raça uma “prisão psíquica”. A sujeição psíquica perpetua a violência colonial através de um sistema de identificações e expectativas de reconhecimento capaz de elevar os ideais do colonizador a violências internalizadas contra a história, os saberes e a pele do colonizado. Poucos conseguiram, como ele, mostrar como a psicologia é a continuação das políticas de sujeição por outros meios.
Seu olhar foi formado junto à psicoterapia institucional que se desenvolvia de maneira pioneira no Hospital de Saint-Alban, na França. Ali se problematizava a natureza disciplinar da instituição hospitalar, da autoridade médica e das estruturas de poder presentes em nossas noções de “saúde” e “cura”.
Ao compreender as relações profundas entre as estruturas institucionais – que tentam nos moldar a partir de sistemas de normas e de leis – e o sofrimento psíquico, Fanon percebeu que tal reflexão clínica trazia consequências políticas explosivas quando voltávamos os olhos aos países subjugados pelo colonialismo. Ou seja, ficava explícito que a psiquiatria era indissociável da naturalização de dispositivos de minoridade aplicados a populações inteiras.
 Marca colonial. Nascido na Martinica, o pensador foi médico-chefe de um hospital psiquiátrico na França, onde passou a desenvolver a teoria da sujeição psíquica – Imagem: Arquivo Frantz Fanon Imec
Marca colonial. Nascido na Martinica, o pensador foi médico-chefe de um hospital psiquiátrico na França, onde passou a desenvolver a teoria da sujeição psíquica – Imagem: Arquivo Frantz Fanon Imec
Certamente, essas reflexões falaram alto em um país como o Brasil, no qual a psicanálise, as práticas antimanicomiais e várias psicoterapias, como a esquizoanálise, tiveram um destino quase único no mundo, continuando sua influência no campo da cultura.
Pois, ao mesmo tempo que trazia o aprofundamento político da clínica, Fanon fornecia a compreensão estruturada dos mecanismos de permanência da sujeição colonial e seus dispositivos de racialização, algo que a clínica brasileira pouco desenvolveu – a despeito de exceções como Lélia Gonzales (1935–1994) e Neusa Santos Souza (1948–2008).
No entanto, a recepção de Fanon talvez seja também o exemplo mais bem-acabado dos limites próprios a certa voga decolonial que se impõe a nós a partir, sobretudo, do figurino produzido por universitários expatriados em Harvard, Yale, Princeton, Duke e Columbia, à procura de impor ao mundo inteiro o mesmo conjunto de questões e autores sem se preocupar em ressoar tradições críticas e lutas locais.
Apropriado como uma espécie de “um dos seus”, Fanon traz, porém, uma crítica colonial de natureza muito distinta dessa hegemônica, que tece cruzadas totalizantes contra o eurocentrismo; que se sente melhor no interior de lutas epistêmicas do que no engajamento concreto em lutas de libertação nacional e crítica ao Capital; e que não sabe o que fazer com um internacionalismo revolucionário militante.
Nesse sentido, um livro como Pensar Fanon é precioso. Ele traz tanto textos basilares sobre essa apropriação problemática (como os de Homi Bhabha e de bell hooks) quanto outros que lembram do horizonte efetivo das preocupações de Fanon (como os de Stuart Hall, Achille Mbembe e Guillaume Silbertin-Blanc).
Pois seria o caso de lembrar como o pensamento e a prática de Fanon são indissociáveis de um marxismo consequente, revolucionário e vinculado às lutas por uma “humanidade por vir”. Essa luta compreende o humanismo até agora existente como uma farsa por não ter realizado as condições materiais para uma verdadeira emancipação genérica. Mas em momento algum ele abandona o horizonte de um universalismo construído pelas lutas e pela libertação das sujeições psíquicas.
Para criar tal universalismo, Fanon não faz uma crítica totalizante contra qualquer matriz crítica gerada em solo europeu, como se ela fizesse parte do mesmo movimento de sujeição epistêmica. Antes, ele propõe uma leitura periférica de autores como Lacan, Hegel, Marx, Sartre, que complexifica tais matrizes. Um gesto que explicita um desejo de aliança capaz de fazer ressoarem experiências de crítica e luta contra a opressão em suas geografias diversas. Ou seja, ele tece alianças com tradições críticas múltiplas, na esperança de que tais alianças possam ressoar experiências múltiplas de resistência.

Nesse ponto, uma leitura mais atenta de O Ano V da Revolução Argelina e, principalmente, Os Condenados da Terra poderia nos poupar muitos equívocos. Esse último é claro em seus propósitos desde o título. Não por acaso, ele refere-se ao primeiro verso da Internacional Comunista: “De pé, condenados da terra…”.
Esses condenados foram muitas vezes compreendidos como o proletariado urbano e industrial. Todo o esforço de Fanon é mostrar como, nos países colonizados, o proletariado urbano é uma parcela pequena e mais integrada à modernização colonial.
Daí a necessidade de entender melhor a função das massas agrárias, de suas formas de resistência e de seu apego à terra como fator de liberdade. Algo, diga-se de passagem, que também será objeto da reflexão de Carlos Marighella, alguém com quem Fanon teria muito a dialogar.
Ou seja, o problema central é tipicamente de ação política marxista. Retirar essas dimensões de Fanon, sem levar em conta o enfrentamento dos problemas de racialização, é esquecer a lição de alguém que não é um universitário que escreve para outros universitários, mas um psiquiatra e um político que se engaja em lutas de libertação nacional e defende revoluções internacionais. Trata-se de alguém que escreve para quem quer se engajar em tais lutas. •
Publicado na edição n° 1374 de CartaCapital, em 13 de agosto de 2025.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘O centenário de Frantz Fanon’
CartaCapital