Xenofonte e o fecho-éclair
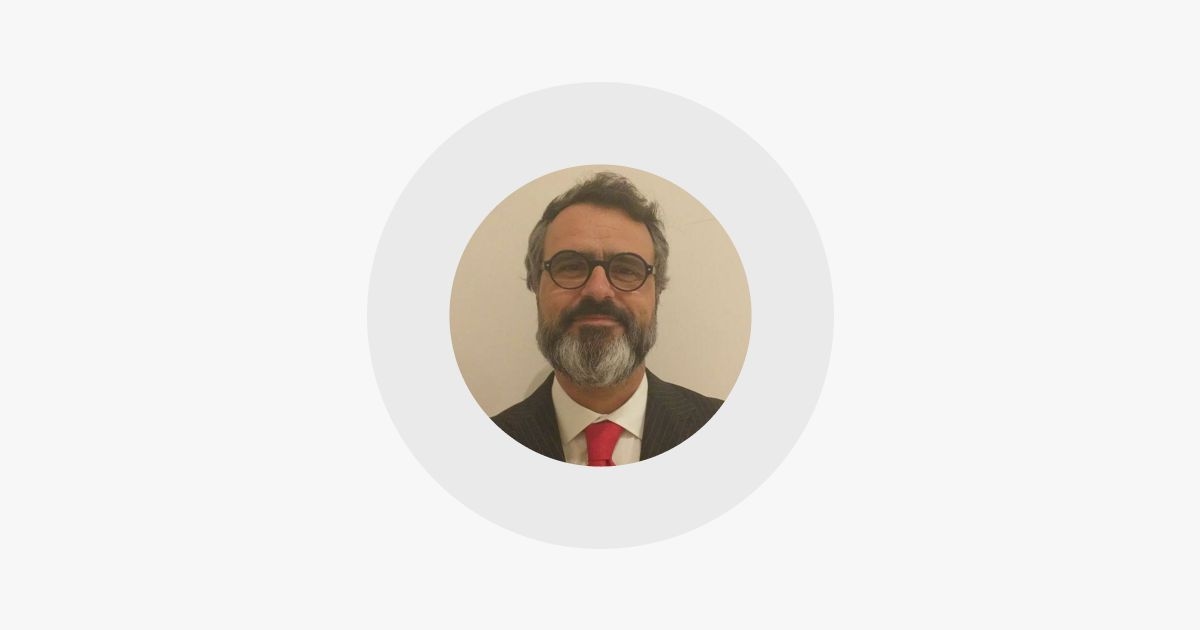
Um homem da Nova Inglaterra inventou um extraordinário entalhe duplo em metal dourado e, para o descrever, usou uma comparação que tomou de empréstimo a um raio que cai do céu. Disse: “Vou chamá-lo fecho-éclair” (relâmpago, clarão). O seu nome era Whitcomb Judson. Colocou-o à venda no início de 1891.
Homero e Píndaro chamavam “símbolos” aos fragmentos partidos de tesselas quando os heróis se apartavam. Quando regressavam, anos mais tarde, os heróis reajustavam as bordas. No momento em que a sua peça do puzzle encaixava perfeitamente na outra, os olhos reconheciam os rostos.
Tal como o rato que se imobiliza, reconhecendo os dentes da serpente que assombrara os seus sonhos em medo antes ainda de os ter percebido na realidade. Assume um ar extasiado. É então que o rato se transforma, sob os dentes da serpente, na forma do outrora maior que o esperava no espaço e que ele vira à noite.
Ao fim de muitos anos, Xenofonte passou a pensar que era melhor ser mercenário do que soldado, embora para se ser o primeiro se tenha de ser o segundo. Os mercenários têm um carácter abrupto e carecem, em geral, de espírito de corpo, ao contrário dos soldados de um reino, cuja disciplina, como o soldo, lhes chega de fora. Cada mercenário tem de cuidar de si mesmo, pensa mais na vida do que na glória e é livre para improvisar, enquanto os soldados se devem a uma falange ou a um esquadrão. Durante a anábase, e antes da batalha de Cunaxa em que Ciro morreu e se revelou a liderança do cronista grego, Xenofonte decidiu que atribuiria a cada parte do seu corpo um fragmento de memória, e que anotaria na sua correagem os números e as letras que lhe permitissem rever, se sobrevivesse na fuga, os eventos faustos e infaustos. Infausto fora o engano e a degola dos generais traídos, acontecimento que desencorajou os seus, momentaneamente decapitados; faustos, as retiradas, as distrações de Artaxerxes II e por fim a marcha até ao Mar Negro.
À noite, aparelhados os guardas, mastigados os escassos mantimentos, Xenofonte lia, diante do fogo, as notas que havia tomado das conversas com o seu mestre Sócrates. Estavam escritas na parte inferior do peitoral de couro e obedeciam também a um método mnemónico baseado em números e palavras soltas. Ao amanhecer, os dez mil retomavam de novo a marcha, com os pés feridos, coxeando, obcecados por eventuais fontes de água doce e provisões, permanentemente em falta. Cruzavam vales mais secos do que os recantos do Hades, circos de granito e xisto rachados por verões de fogo, caminhando durante horas, sem uma palavra, respirando com dificuldade. Alguns, mais feridos, pereciam no caminho; uns poucos ficavam para trás e ofereciam-se para espiar das colinas os que os perseguiam. Xenofonte multiplicava-se: tão depressa estava no quadrado central daquela mole em fuga, como à cabeça. Quando lhe era possível recostar-se contra alguma acácia atarracada e parar para urinar um líquido escuro, espesso e ardente, imaginava uma biblioteca que abrigasse também livros persas, pois o conhecimento do inimigo toma parte da força própria. Uma biblioteca não muito grande, perto do mar, na qual se dedicaria a transcrever as suas experiências de guerra e os cem detalhes que a sua curiosidade havia registado pelo caminho: pedras com desenhos de espirais no seu interior, flocos de mica, seixos da cor do gelo, voos de águias, procissões de nuvens, pobres nascentes ao lado das quais cresciam tísicos fetos, relâmpagos, clarões.
Faltava-lhe a graça e a memória do seu mestre Sócrates, a quem nunca tinha visto citar livros ou documentos. Tinha, o maiêuta, a capacidade de improvisar, o dom de brincar com as ideias, a paciência de quem conhece o ofício de escultor e, portanto, as formas em que se pode esculpir um bloco ou polir um argumento. Xenofonte devia-lhe a arte da temperança e o caminho para deixar de lado o desespero. Na biblioteca com que sonhava, haveria poucos, mas bons volumes. Aos fugitivos, as noites estreladas preenchiam-nos da esperança de regressar a casa, o pastor às cabras, o camponês à terra cinzenta, o artesão aos seus bronzes, o vinhateiro aos seus bacelos, o curandeiro aos seus unguentos. Eram os dez mil na sua anábase, na sua fuga. Subiram o Tigre e atravessaram a Arménia por uma rota que parecia infinita, chegaram à colónia grega de Trapezunte, nas margens do Mar Negro, e quando viram a grande extensão de água e o clarão da lua sobre as ondas, gritaram: “O mar, o mar!”, escreveria muito mais tarde Xenofonte. Após o que caíram de joelhos invocando os seus deuses. Xenofonte, Artemis e também Ares. Esfregaram as pálpebras e acariciaram os tornozelos doridos, cuspiram, assobiaram, suspiraram. Estando mais perto da sua terra e a salvo dos seus perseguidores, que entretanto haviam lentificado a sua marcha, as vozes despertaram novamente as gargantas, os cantos, os insultos, as bênçãos, os juramentos e as promessas. Estabelecido em Escilunte, e antes de se juntar à campanha de Agesilau contra a Boécia, Xenofonte tentou organizar a sua pequena biblioteca, na qual começou a transcrever a enorme e tremenda façanha de que havia sido parte e o principal responsável. Foi como esticar pâmpanos de videira, desdobrar papiros egípcios. Sílabas e números brotavam ao ritmo da sua mão para transcrever o heroísmo de um e o rosto manchado de sangue de outro. Seria uma crónica, mas também uma história épica. Seria uma história que ressumbraria os mesmos suores e pânicos dos seus homens.
No final de 1891, o fecho de dentes do Sr. Judson tinha encontrado onze compradores. Em 1892, vinte e dois. Em 1893, trinta e três. Em 1894, quarenta e quatro. Em 1900, cem.
Em 1909, quando Whitcomb Judson morreu, a sua mulher entrou no quarto e ele pegou-lhe na mão. Segurou-a firmemente. Perguntou-lhe se se lembrava de ele ter imaginado, há muito tempo, há mais de vinte anos, que, ao encaixar dois ganchos dourados, um ao contrário do outro, os dentes já não se soltariam. A sua invenção não passava de um nome pateta que lembrava clarões e tempestades.
Xenofonte não teve muito tempo para desfrutar da sua biblioteca, pois quanto mais descansava lendo, mais cansaço se somava ao que já sentia e com mais urgência o reclamavam lá fora. Durante dias e dias, lhe doeram as pernas e lhe falharam os olhos. Quando pensava em si, não se via como mercenário ou viajante, mas como um amigo de Ciro, o persa, discípulo de Sócrates, criança distraída e escritor maduro. Repetia palavras persas ao acaso, sonhava com gaivotas. Desfrutava de um pão escuro e de um azeite em que brilhava o clarão da liberdade.
observador





