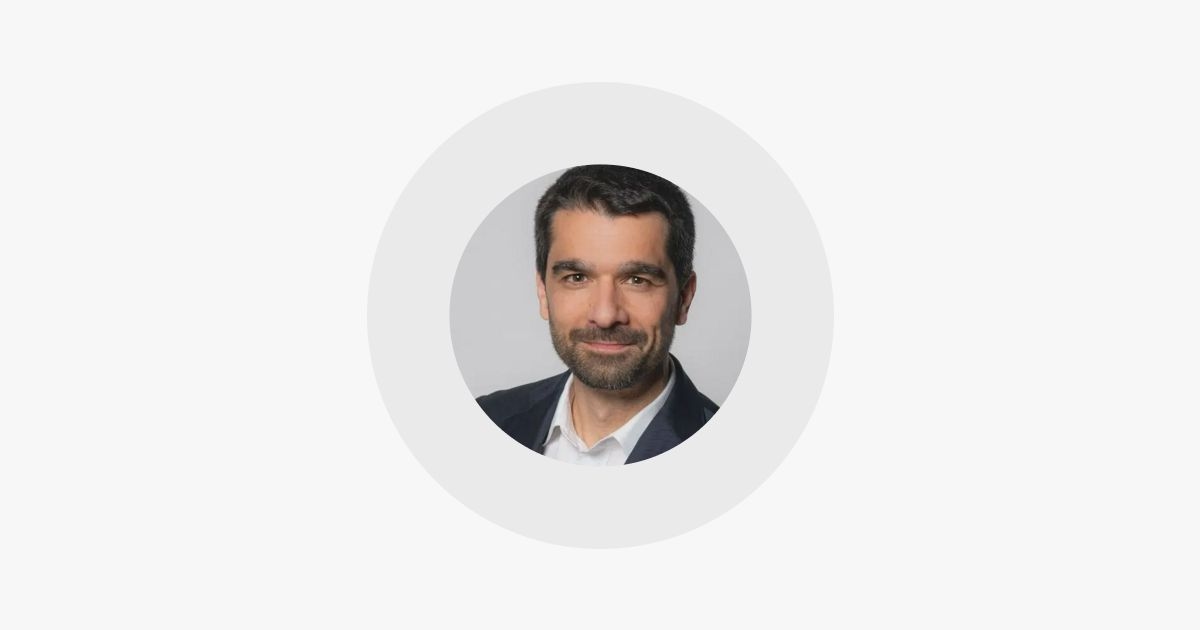Uma crítica liberal à tentativa de dissolução do Chega

Em outubro de 2025, o advogado António Garcia Pereira apresentou uma denúncia ao Ministério Público, solicitando a dissolução do Chega com fundamento no artigo 46.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa. Na sua perspetiva, o partido violaria os princípios fundamentais da ordem constitucional ao promover discursos de ódio e ideologias contrárias à dignidade humana.
O caso, mais do que jurídico, é simbólico: obriga-nos a repensar os limites da liberdade política e a coerência interna de um sistema que se proclama democrático e pluralista, mas que simultaneamente proíbe determinadas formas de organização ideológica. Se a liberdade política é, como se diz, um dos pilares da democracia, até que ponto pode o Estado decidir quais os ideais são admissíveis?
A Constituição consagra amplos direitos e liberdades fundamentais, ainda que muitos deles estejam sujeitos a limites expressos na própria Carta Magna ou a interpretações restritivas do Tribunal Constitucional. No caso em apreço, estamos perante um limite da segunda categoria.
Concretamente, a liberdade de associação — reconhecida no artigo 46.º — encontra uma restrição no seu n.º 4, que dispõe: “Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista”. A norma tem uma raiz histórica clara: o trauma do Estado Novo e o receio de um eventual retorno ao autoritarismo.
Contudo, essa exceção revela um paradoxo: para proteger a liberdade, a Constituição aceita limitar a própria liberdade. A democracia torna-se, assim, um regime que defende de forma preventiva, não apenas contra atos violentos, mas contra ideias. É o que Karl Popper designou por “paradoxo da tolerância”: a necessidade de não tolerar os intolerantes para preservar a sociedade aberta.
Mas até que ponto é legítimo o Estado assumir esse papel paternalista, decidindo o que os cidadãos podem ou não defender politicamente?
Do ponto de vista da ciência política, o Chega não pode ser rigorosamente classificado como partido fascista. O fascismo histórico – enquanto movimento totalitário revolucionário – pressupunha a abolição do pluralismo, a “corporativação” do Estado, o culto da violência e a negação da “democracia representativa”.
O Chega, por sua vez, é um partido político de direita nacionalista, inserido dentro da lógica parlamentar, que opera nos limites do Estado de direito e cuja ideologia é mais moralista e securitária do que propiamente totalitária. As suas posições sobre a imigração, minorias ou criminalidade podem ser controversas e até demagogas, mas não figuram um projeto de destruição da democracia.
Proibir a sua existência seria, portanto, um erro conceptual e político: confundiria a crítica radical ao sistema com a tentativa de o derrubar – algo que, na tradição liberal, deve ser combatido com argumentos, não com proibições.
O liberalismo clássico, assenta na ideia de que a liberdade de expressão deve ser limitada quando há um dano efetivo a terceiros. Punir meramente ideias ou palavras é incompatível com um Estado verdadeiramente livre.
A expansão contemporânea dos “crimes de ódio” reflete uma deriva moralista do direito penal – um “direito penal dos sentimentos” que transforma ofensas simbólicas em infrações públicas. Um Estado liberal não existe para proteger cidadãos de se sentirem ofendidos, mas para proteger a sua vida e propriedade de danos reais.
Assim, mesmo que um partido adote um discurso provocador, o limite legítimo da punição deve ser a ação, não a intenção. Punir palavras é o primeiro passo para punir pensamentos.
Curiosamente, enquanto a Constituição proíbe organizações fascistas, não proíbe organizações comunistas, apesar da experiência histórica mostrar que ambos movimentos deram origem a regimes totalitários. O Partido Comunista Português, que se reivindica como herdeiro de uma ideologia responsável por milhões de mortes e pela supressão de direitos e liberdades, é uma força plenamente legítima no sistema político português.
A “democracia liberal” contemporânea apresenta-se como o regime da liberdade, da pluralidade e da neutralidade ideológica. No entanto, quando observamos as suas práticas, percebemos, que essa neutralidade é, muitas vezes, aparente.
Como observou Carl Schmitt, toda ordem política se funda numa distinção essencial entre amigo e inimigo. A democracia ao pretender, pelos menos aparentemente, ser universal e inclusiva, acaba por criar os seus próprios inimigos internos – os que “não partilham dos seus valores”. Paradoxalmente, a “democracia liberal” defende a liberdade excluindo quem a interpreta de modo diferente.
O mesmo Estado que proclama a liberdade de pensamento é aquele que define quais os pensamentos que são aceitáveis. O fascismo institucionalizado transforma-se, assim, numa espécie de dogma oficial – uma religião moderna, onde certas crenças políticas são sagradas e outras heréticas.
Esta tendência não é apenas portuguesa. Em toda a Europa o antifascismo jurídico e cultural tornou-se um instrumento de conformidade moral, usado para delimitar o espaço do aceitável e silenciar dissidências. O resultado é uma democracia cada vez mais moralizada, menos racional e mais intolerante no nome da tolerância.
Como já referi, Karl Popper sustentava que uma sociedade tolerante não pode tolerar intolerantes, sob pena de se autodestruir. Esta tese é frequentemente invocada para justificar a proibição de movimentos extremistas.
Mas há um problema: que define quem é o “intolerante”? Se o poder político detém esse critério, abre-se o caminho para um absolutismo moral, onde qualquer oposição radical pode ser etiquetada como “antidemocrática”.
Hannah Arendt, ao estudar os regimes totalitários, mostrou que o perigo não reside apenas na ideologia, mas também na fusão entre moral e política – quando o Estado passa a punir o pensamento desviante em nome do bem comum. Nesse sentido, o constitucionalismo antifascista europeu, ao tentar impedir o mal, arrisca-se a reproduzir os seus mecanismos: censura, vigilância e punição de ideias.
Se acreditamos verdadeiramente na liberdade política, então devemos aceitar o direito de alguém ser antidemocrático – desde que não recorra a violência.
A liberdade que exclui o erro é uma liberdade fingida. A democracia que não tolera a sua negação é, no fundo, uma tirania de boas maneiras.
Num estado verdadeiramente liberal, o combate às ideias extremas faz-se com debate, não com dissoluções judiciais. É o argumento, e não o tribunal, que deve derrotar o adversário político.
Dissolver o Chega (ou qualquer outro partido) com base em critérios morais seria uma vitória pírrica da democracia – venceria a democracia, mas perderia a alma.
O pedido de dissolução do Chega representa mais do que um episodio jurídico: é o espelho de um dilema profundo da modernidade democrática.
A Constituição portuguesa, ao proibir ideologias fascistas e permitir ideologias comunistas, mostra que a neutralidade do Estado é uma ficção útil. E ao punir discursos de ódio sem dano efetivo, corre o risco de transformar a liberdade num privilégio condicionado.
A democracia liberal portuguesa, nascida do medo do passado, vive ainda sob a sombra desse trauma – protegendo-se tanto, que se esquece de respirar.
Talvez o verdadeiro teste da maturidade democrática seja permitir que até os seus críticos existam. Porque como lembrava Mill, “a verdade nasce do confronto das opiniões, não do siêncio de umas em nome das outras”.
observador