Reparações: do pressuposto falso à ideia absurda
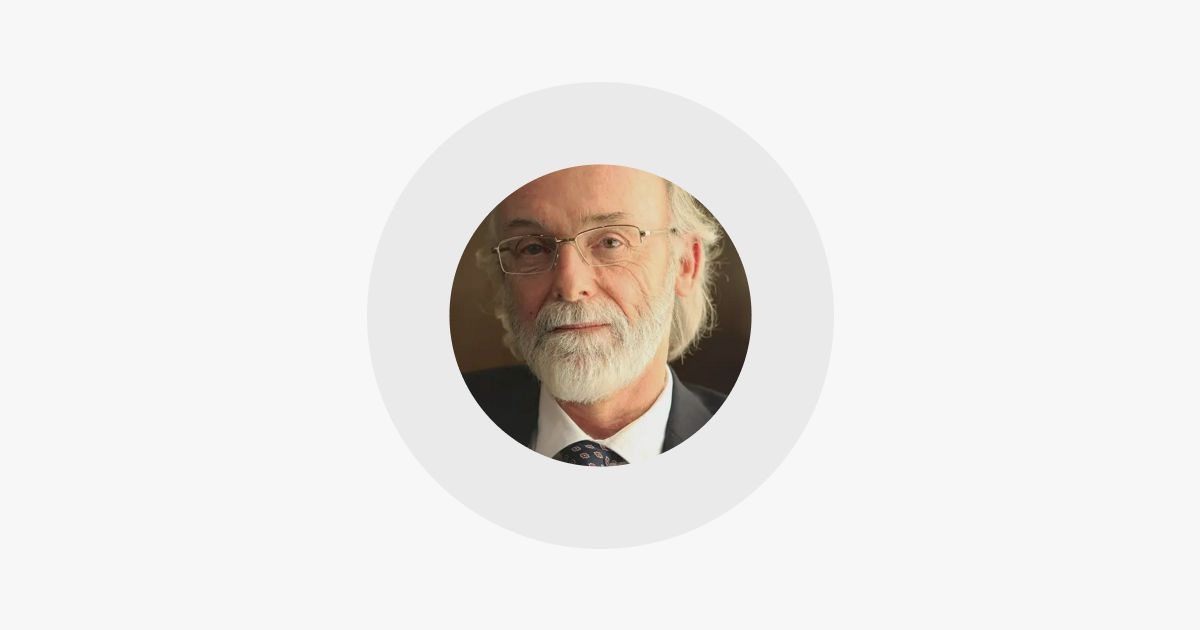
Foi há pouco mais de um ano que, de forma desastrada e algo confusa, Marcelo Rebelo de Sousa atirou com a ideia das reparações para a praça pública. Durante umas semanas o assunto chamou a atenção dos órgãos de comunicação social, mas depois, não encontrando uma verdadeira sustentação na sociedade portuguesa, saiu novamente de cena, não tendo regressado às primeiras páginas, à agenda política ou ao debate público. É muito provável que o assunto continue a fermentar nas universidades, mas desapareceu praticamente dos artigos de opinião e das redes sociais. Nos últimos seis ou sete meses tive apenas notícia de um ou dois artigos escritos, no Público, por João Moreira da Silva, um doutorando em Cambridge que transpira wokismo por todos os poros; de um colóquio dedicado ao tema e frequentado pela habitual gente do Bloco ou aparentada — João Moreira da Silva incluído, claro —; e de uma recente e amena troca de impressões num canal secundário da nossa televisão (RTP África) em que se disseram muitas platitudes e alguns disparates. Já tive ocasião de me debruçar sobre um desses disparates, mas o mais importante é perceber que a questão das reparações é, felizmente, um nado-morto em Portugal. Salvo melhor opinião e até prova em contrário, a maior parte dos portugueses sente e pensa que não há fundamento para pagar reparações por factos ocorridos durante a vigência do império colonial português, e as dezenas de activistas woke que até há uns anos se desdobravam em proclamações e escritos reivindicativos, desinteressaram-se, calaram-se ou foram pregar para outras freguesias.
Todavia, Portugal não é uma ilha e é bom não perder de vista que os países das Caraíbas e da África subsariana têm continuado a exigir reparações e que, longe dos holofotes, os governantes do Reino Unido, dos Países Baixos, da Alemanha, França e Bélgica, têm feito reuniões sobre essa questão. Ao que me informam, haverá no próximo dia 25 de junho, em Londres, um novo encontro dedicado ao assunto e consta que desta vez Portugal e Espanha serão convidados a participar nele. Eu continuo a duvidar que até mesmo o Reino Unido, onde o movimento woke é forte e o governo está na mão dos trabalhistas, se disponha a dar esse passo absurdo e suicida, mas tenho a convicção — para não dizer a certeza — de que no norte da Europa, sobretudo na Alemanha e na Holanda, a esquerda, e até alguma direita, irão manter a pressão.
Por isso, e se bem que em Portugal o assunto pareça ter morrido ou entrado em hibernação, é importante ter a consciência de que lá fora, nos bastidores políticos, ele permanece vivo. Assim sendo, pode ser útil continuar a formular e a elaborar uma argumentação que permita aos nossos governantes e a cada um de nós, querendo, contrapor ideias lógicas e historicamente fundamentadas à pressão externa que se exerce sobre o país. Falo em pressão externa porque a interna é neste momento quase nula, mas sei que ela poderá reaparecer caso o governo caia nas mãos de Pedro Nuno Santos ou de uma segunda geringonça.
Ora, o que poderei eu acrescentar para além do que já disse? Relembro que abordo este assunto há vários anos, fui avançando com diversas razões para que não se aceite ou patrocine a ideia de reparação — ver, por exemplo, aqui ou aqui — e gostaria hoje de deixar aos meus leitores alguns argumentos de âmbito mais geral. Efectivamente, é importante notar que todo o raciocínio dos que defendem as reparações a povos africanos ou afro-descendentes pelos danos causados pela escravatura transatlântica, por exemplo, assenta num pressuposto, geralmente implícito. Esse pressuposto é o de que as pessoas negras escravizadas por gente dos países ocidentais terão sofrido violências únicas, incomparavelmente brutais e devastadoras. Assim sendo, justificar-se-ia que só elas, ou melhor, as que delas descendem, fossem merecedoras de reparações históricas.
Mas será esse pressuposto verdadeiro? É indiscutível que o sistema escravista que ligou, entre os séculos XV e XIX, a África, a Europa Ocidental e a América foi um horror, que implicou um enorme sofrimento e milhões de mortos. O número total é difícil de precisar porque ignoramos quantos morreram em África, nas guerras de captura que negros faziam a outros negros, bem como no trajecto dos sobreviventes até à costa e aos quintais ou barracões onde aguardavam antes de entrarem na coberta dos navios negreiros que os transportariam através do Atlântico. David Eltis, num livro recentíssimo, chamou a esse horror “cataclismo atlântico”. Mas a pergunta que aqui interessa fazer — e que Eltis até certo ponto também faz, ainda que com outro intuito — é a seguinte: quantos (e quais) cataclismos humanos houve antes, durante e depois desse “cataclismo atlântico”?
E a resposta, quando pensamos em guerras, epidemias, esmagamento de revoltas, etc., é que foram infelizmente inúmeros, certamente na ordem das muitas dezenas. Refiro um deles, a título de exemplo. As campanhas militares e guerras de conquista de Tamerlão, no último terço do século XIV, causaram, em apenas 35 anos, a morte a 17 milhões de pessoas nas zonas conquistadas (Irão, Iraque, norte da Índia, sul da Rússia, etc.). Terão sido a devastação e o sofrimento então vividos menores do que o do “cataclismo atlântico”? Conseguimos imaginar o que sofreram as pessoas desalojadas e mortas pelas tropas de Tamerlão, muitas vezes com enorme crueldade? Seria concebível que o Médio Oriente em peso viesse agora pedir ao actual Uzbequistão indemnizações pelos actos bárbaros desse seu herói nacional? Então por que razão se exigem reparações para os povos de África, mas não para os da Ásia Central, do Médio Oriente ou da Europa Oriental? Não faz sentido, pois não?
Mas se não quisermos considerar as muitas dezenas de grandes cataclismos bélicos, epidemiológicos, de extermínio ou limpeza étnica, de que a história humana é desgraçadamente feita, e se nos focarmos apenas na questão da escravatura, ainda assim deparamo-nos com vários cataclismos de pesadas consequências. É claro que não temos uma escala para medir o grau de injustiça e de dor que cada um deles terá causado. Alguns não estão sequer suficientemente documentados. Temos, porém, uma noção do número de pessoas envolvidas, da amplitude das suas deslocações forçadas e das crueldades que sofreram. Middle Passage era (e é), na terminologia britânica, a expressão que se usa para designar a viagem transatlântica que os escravos negros fizeram rumo à América. Ora, como quem leu o livro Many Middle Passages sabe, houve muitos outros escravos a fazer travessias igualmente violentas e trágicas. A escravatura criou terríveis injustiças ao longo do tempo e em todas as partes do mundo. Refiro aqui três exemplos que cobrem épocas e zonas diferentes do mundo:
- Entre os séculos VIII e XI os vikings capturaram muita gente — celtas, anglo-saxónicos, eslavos, etc. — que depois venderam como escravos, por vezes a enorme distância da zona da captura. Podia acontecer, por exemplo, que um habitante da Islândia, por eles apanhado, aparecesse, como escravo, em Constantinopla ou Bagdade.
- Os mongóis da época de Gengis-Khan, dos seus filhos e netos (século XIII a meados do século XIV) conquistaram e administraram um império que ia da Rússia à China e à Coreia. Essa conquista foi levada a cabo com um nível de destruição e de morticínio raramente vistos e a quantidade de escravos obtidos por essa via foi enorme. Ainda que os números totais não sejam seguros, sabemos que são da ordem dos muitos milhões e que mesmo as incursões militares de amplitude limitada produziam quantidades astronómicas de escravos. Num ataque à parte oriental do Irão em 1295, por exemplo, as tropas mongóis capturaram e escravizaram 200 mil pessoas.
- Na década de 1830 os Maori da Nova Zelândia invadiram as ilhas Chatham e mataram ou escravizaram todos — repito: todos — os seus habitantes.
Podia multiplicar estes exemplos por vinte ou trinta, mas o que importa, em suma, sublinhar é que o chamado “cataclismo atlântico” está longe de ter sido o único cataclismo e de ter sido incomparável em termos de brutalidade e dramatismo. É necessário perceber que a escravidão criada pelos ocidentais nas Américas era uma pequena parte de um problema muito mais amplo. Segundo as estimativas demográficas actualmente aceites existiriam nas Américas, em 1800, 6 milhões de escravos negros, mas havia, então, um total de 45 milhões de escravos no mundo. Os quantitativos máximos de escravos foram atingidos em épocas anteriores aos Descobrimentos e não depois deles. É preciso que as pessoas tenham bem presente que os escravos negros nunca constituíram, em momento algum da História, uma maioria entre os escravizados. Muita gente quando pensa em escravatura, visualiza um homem negro, na América ou em África, mas isso é um erro. A maior parte dos escravos tinha a pele clara, estava na Eurásia e era do sexo feminino.
Ora, se quisermos que os actuais governantes paguem reparações materiais e simbólicas aos afrodescendentes pela iniquidade e violência que foi a escravatura na América e em África, então, manda a boa lógica e a mais elementar justiça que a paguem, também, aos descendentes de todas as pessoas que a sofreram, na Europa, na Índia, na Coreia, etc. Haverá finanças e vontade para tudo isso? E, havendo-as, teriam os governantes politicamente correctos forma de escapar ao dilema que imediata e inevitavelmente se poria e que os faria entrar num círculo vicioso? É que é altamente provável que as pessoas actualmente vivas sejam simultaneamente descendentes de escravos e de traficantes ou senhores de escravos. Vou exemplificar com duas pessoas que toda a gente conhece. Os ex-presidendes dos Estados Unidos George Bush e o seu filho George W. Bush, são descendentes de um negreiro setecentista inglês, de Bristol, e muito provavelmente de gente capturada e escravizada por piratas da Irlanda e, depois, vendida para outras regiões da Europa — para Roma, por exemplo. Deverá a família Bush ser indemnizada? Quem defende a ideia de reparações que responda de forma fundamentada à pergunta e que descalce esta bota e as que referi anteriormente.
observador




