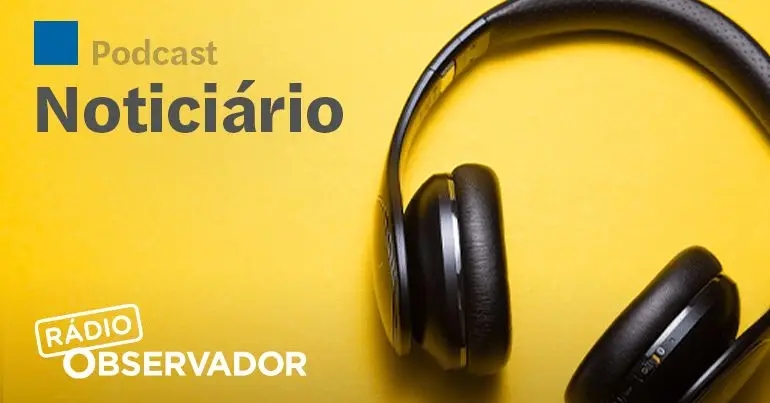A ilusão democrática no mundo pobre

As evidências históricas mostram que, nos países pobres, a democracia plena raramente precede o desenvolvimento económico. Talvez devamos repensar a ordem dos fatores.
Nem toda a democracia gera crescimento, e em muitos casos, impede-o. Este artigo questiona a crença confortável de que o voto popular é o motor do progresso económico.
“There is no historical case of a country achieving economic development under conditions of mass democracy.” – Lipton Matthews
A frase choca. E justamente por isso deve ser levada (muito) a sério. A análise comparativa da história do desenvolvimento revela um padrão que pode ser desconfortável para a sensibilidade democrática contemporânea, eu sei. Mas, gostemos ou não, o facto é que os grandes saltos económicos não ocorreram, em regra, sob regimes de democracia plena. Pelo contrário, os países que hoje figuram entre os mais desenvolvidos, ou que protagonizaram trajetórias de crescimento rápido e sustentado, fizeram-no frequentemente sob arranjos autoritários, tecnocráticos ou de baixa participação política.
Trata-se de uma observação empírica, não de uma apologia do autoritarismo. Mas importa enfrentá-la com realismo político.
O problema parece residir no facto de, na maioria dos países pobres, as democracias de massas enfrentarem três grandes obstáculos estruturais, a saber:
1. Capacidade estatal reduzida: os Estados frágeis não conseguem garantir segurança jurídica, infraestruturas, educação ou saúde básicas. Sem instituições eficazes, a democracia transforma-se rapidamente em populismo, clientelismo e captura por interesses de curto prazo;
2. Pressão redistributiva imediata: em contextos de escassez, a exigência democrática tende a traduzir-se em políticas de consumo rápido e redistribuição ineficaz, frequentemente à custa do investimento estratégico, da disciplina fiscal e da poupança pública;
3. Interesses das elites: elites económicas e políticas preferem muitas vezes regimes autoritários estáveis, que garantam previsibilidade e controlo, a democracias instáveis que ameacem os seus privilégios.
A história recente da Ásia é elucidativa. Singapura, sob a liderança de Lee Kuan Yew, tornou-se um ícone do “desenvolvimentismo autoritário” – meritocracia, disciplina estatal, controlo centralizado e zero tolerância à corrupção. Não houve democracia de massas, houve antes um Estado forte, eficiente e orientado para resultados. A democratização veio só depois, com a prosperidade e a consolidação institucional.
Taiwan e Coreia do Sul seguiram trajetórias semelhantes: crescimento primeiro, abertura política depois. A China é, hoje, o caso mais controverso e estudado e, para muitos, o mais inquietante. Porque demonstra, com brutal eficácia, que regimes autoritários podem ser altamente funcionais na promoção do crescimento, ainda que à custa de liberdades fundamentais.
A ciência política contemporânea não ignora estas tensões. Autores como Samuel Huntington, Guillermo O’Donnell ou Francis Fukuyama mostraram que a consolidação democrática exige pré-condições: uma burocracia funcional, um sistema judicial independente, uma sociedade civil relativamente estruturada e, sobretudo, um Estado que tenha precedência sobre a sua democratização.
A pergunta que se impõe, portanto, não é se a democracia é desejável. Ela é! A questão é se é viável em qualquer contexto. E, mais ainda, se deve ser tratada como ponto de partida ou como ponto de chegada.
Há quem prefira ignorar estas tensões em nome de imperativos morais ou de fé ideológica. Mas ignorá-las não as elimina. Pior. Contribui para exportar modelos institucionais disfuncionais que se desagregam à primeira crise. A democracia, como regime de governo, é um artefacto político complexo. Exige tempo, capital institucional, coesão social mínima e (sim), prosperidade económica. O seu florescimento não pode ser decretado. Tem de ser construído.
Porque antes de perguntarmos se um povo está preparado para a democracia, talvez devêssemos perguntar se o Estado está preparado para sustentá-la.
observador